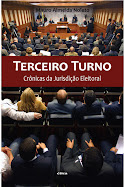terça-feira, 18 de agosto de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
"O voto é a única coisa que você não tem. O voto é do eleitor."
 MARINA SILVA na revista ISTO É.
MARINA SILVA na revista ISTO É.
Acho que fomos todos surpreendidos. Vejo isso como muito positivo. O Brasil precisa fazer jus à potência ambiental que é. Essa luta tem 30 anos e tem uma densidade muito significativa nos vários segmentos da sociedade. Diante de uma crise econômica que só se soluciona resolvendo a crise ambiental, e uma crise ambiental que, ao se resolver, não pode negar a questão econômica, o tema aparece com alguma densidade.
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
domingo, 21 de setembro de 2008
Entrevista de Barroso à Conjur

Leia a entrevista
Luís Roberto Barroso — A vida brasileira se judicializou, sobretudo nos últimos anos. E só parte da responsabilidade é da Constituição de 88. Por ser bastante analítica, ela trouxe para o espaço da interpretação constitucional algumas matérias que, se não tivessem sido constitucionalizadas, seriam discutidas no Congresso, no processo político majoritário. Não nos tribunais.
Barroso — Sim. Eu tenho a teoria de que o Rio é o lugar verdadeiramente cosmopolita do Brasil. Há lugares no país extremamente desenvolvidos e industrializados que são provincianos. O Rio é cosmopolita, tem um pouco de tudo de bom e de ruim que há no Brasil. Ele vive a ventura e a infelicidade de ser um pouco da expressão do país. E o Rio teve sucessivos governos sem projeto abrangente de cidade e de cidadania. Agora o problema está muito difícil de ser resolvido. Mas mesmo os problemas difíceis precisam ser equacionados, precisam de projetos. Vou lhe dar um exemplo prosaico. Eu morava na Barra da Tijuca, no Rio. Em 1998, o trânsito ficou tão insuportável que eu me mudei. Até hoje, não foi feito nenhum projeto viário novo para a Barra da Tijuca. Como é que pode uma cidade não ter um projeto viário novo em dez anos? Esse é um exemplo microscópico, mas mostra a incapacidade de abstração e de pensar o país para sequer os próximos cinco anos ou dez anos. Quando eu escrevi uma proposta de reforma política para o Brasil, eu a propus para vigorar depois de oito anos. Ninguém deu atenção. “Como é que pode ser um negócio para daqui a oito anos?”, questionaram.
Postado por
Mauro Noleto
1 comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
sexta-feira, 12 de setembro de 2008
Jorge Hage
O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, afirmou em entrevista exclusiva ao Contas Abertas que o único modo para se combater o crime de colarinho branco no Brasil é por meio de escutas telefônicas. Segundo ele, a polícia precisar usar o grampo para combater e prender o criminoso que comete esse tipo de delito. "Essas investigações precisam de métodos diferentes dos usados nos procedimentos comuns. Eu não participo dessa paranóia contra as escutas telefônicas”, afirma.Hage argumenta, porém, que se o Congresso Nacional tivesse aprovado o projeto de lei que introduz ao Código Penal o crime de enriquecimento ilícito, que tramita desde 2005, a comprovação do crime seria mais fácil. “Assim, dispensa-se a necessidade de se obter tantas provas para condenar alguém, pois o bandido é capturado pelo resultado, pelo tamanho do patrimônio. Ou ele explica que teve uma origem privada legítima ou, se ele estava atuando apenas na vida pública, como enriqueceu daquela forma?”, afirma. De acordo com o ministro, enquanto a medida não entrar em vigor, o Estado brasileiro precisa ser instrumentalizado, assim como a polícia, “braço do Estado”, para poder investigar de forma eficaz.
Laia a entrevista aqui
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos, imprensa
segunda-feira, 25 de agosto de 2008
Joaquim Barbosa
 FOLHA - A mídia o aponta como o ministro que mais se desentende com os colegas. O sr. é uma pessoa de temperamento difícil?
FOLHA - A mídia o aponta como o ministro que mais se desentende com os colegas. O sr. é uma pessoa de temperamento difícil?
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
terça-feira, 6 de maio de 2008
Britto: "Vamos ter boas novidades"
Postado por
Mauro Noleto
2
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
segunda-feira, 5 de maio de 2008
Britto Presidente: "buscar a pureza da democracia representativa"
 O Novo Presidente do TSE, Carlos Britto, toma posse amanhã, dia 6 de maio. Na Folha de São Paulo de hoje foi publicada a seguinte entrevista. Confira o perfil do novo Presidente.
O Novo Presidente do TSE, Carlos Britto, toma posse amanhã, dia 6 de maio. Na Folha de São Paulo de hoje foi publicada a seguinte entrevista. Confira o perfil do novo Presidente.
FOLHA - Quais são os principais temas que o sr. espera resolver até as eleições municipais deste ano?
CARLOS AYRES BRITTO - Precisaremos, antes das eleições, aperfeiçoar o sistema de fidelidade partidária, que nós implantamos no ano passado, e retomar uma discussão sobre o quociente eleitoral em eleições proporcionais. Mas não só isso: certamente voltará à tona o tema da vida pregressa de um candidato sob suspeita e a discussão sobre se a legislação que hoje dispõe sobre jornais, rádios e televisão pode ser aplicada à mídia on-line. Por último, é necessário que o TSE debata sobre programas como o PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] em ano eleitoral.
FOLHA - O que seria aperfeiçoar o sistema de fidelidade partidária?
BRITTO - Estamos cobrando dos candidatos fidelidade aos partidos e ao esquadro ideológico que sai de cada eleição. Mas o partido tem fidelidade a ele mesmo? Pode ter um programa belíssimo e uma prática feiíssima? Se estamos cobrando dos candidatos eleitos postura compatível com uma idéia de qualificação política ou de autenticidade do regime democrático representativo, então como admitir partidos com as oligarquias partidárias? Que sepulcro caiado é esse, que por fora está pintadinho, mas por dentro é uma putrefação só? Até que ponto podemos conviver com tristíssimas expressões de sepulcros caiados?
FOLHA - O sr. foi filiado ao PT por muitos anos. Como é comparar o PT atual com aquele de 20 anos atrás?
BRITTO - Quando fui indicado para ministro do Supremo, virei minha página partidária. Não por me arrepender ou por refugar, não existe isso. Mas continuo achando que o PT, na retomada do processo democrático brasileiro, cumpriu um papel fundamental. Não posso desconhecer, porém, que passou e talvez ainda passe por uma grave crise de identidade.
FOLHA - Sobre o quociente eleitoral, existe um debate acontecendo no TSE que o sr. pediu vista...
BRITTO - Eu pedi vista do processo porque 16, 17 anos atrás, eu escrevi um artigo que foi publicado em uma revista do TSE já levantando esse tipo de questionamento. Até que ponto a lei pode, a pretexto de implantar um sistema proporcional de votação e apuração, desconsiderar o voto do eleitor e desviar esse voto para quem não o recebeu? A lei, ao que parece, está entrando em contradição ao permitir que partidos e políticos se apropriem de votos que não lhes foram dados.
FOLHA - Não seria esse o caso dos suplentes de senadores?
BRITTO - Pode-se discutir também se a legislação sobre os dois senadores suplentes é compatível com a pureza do regime democrático representativo. No mínimo, a própria Justiça Eleitoral terá de projetar na tela do computador, da urna eletrônica, a imagem dos dois suplentes e os nomes. O mesmo acontecendo para os vices das chefias executivas.
FOLHA - São mudanças que já podem acontecer nessas eleições?
BRITTO - Já. Porque, no fundo, você vota em três pessoas. Então o eleitor precisa saber: esse senador tem telhado de vidro.
FOLHA - Pode-se dizer que um possível terceiro mandato fere um dos pilares da democracia? BRITTO - A república é uma forma de governo contraposta da monarquia. Enquanto a monarquia é hereditária, a república é eletiva. Logo, na república, a renovação dos quadros dirigentes é uma necessidade. Ora bem, se você possibilita a renovação de mandatos, você golpeia a república nesse seu elemento da renovação dos quadros dirigentes. Quanto mais você prorroga um mandato, mais se aproxima da monarquia e se distancia da república. O pior de tudo da idéia de outro mandato é que cesteiro que faz um cesto faz um cento. Você permite uma reeleição, já fragilizou a pureza do regime republicano. Depois você tolera uma segunda reeleição. E porque não uma terceira? Aí você perde a noção de limite e teremos uma república no papel e uma monarquia de fato.
FOLHA - E a utilização eleitoral de programas sociais?
BRITTO - É algo que nos obriga a andar sobre um fio de navalha, pois é muito tênue a fronteira do legal e do ilegal. De uma parte, não se pode impedir o governo de governar. De outra, porém, há essa possibilidade da quebra do princípio da paridade de armas eleitorais. Não se pode aprioristicamente dizer que esses programas de governo são eleitoreiros, como não se pode também aprioristicamente cair na fórmula do liberou geral. A Justiça Eleitoral tem que analisar caso a caso.
FOLHA - Ao tratarmos do princípio da paridade de armas, entramos no debate de financiamento de campanha. Qual sua visão sobre o tema?
BRITTO - Victor Hugo [escritor francês] disse o seguinte: nada é tão irresistível quanto a força de uma idéia cujo tempo chegou. O financiamento público de campanha é uma idéia cujo tempo chegou. Chega de caixa dois. Porque caixa dois é caixa-preta. É espaço do subterfúgio.
FOLHA - E sobre voto obrigatório?
BRITTO - Sou a favor do voto facultativo. Porque ele não faz do ato de votar um peso. Faz com a noção de dever natural, cívico.
FOLHA - E se os insatisfeitos deixarem de votar e prevalecer o voto de quem ganha favores de candidatos?
BRITTO - Não é mais o eleitor vítima. É cúmplice. O processo eleitoral é como um concurso. Os candidatos são os políticos e os examinadores, os eleitores. Se passam nesse concurso maus candidatos, é porque os examinadores permitiram.
FOLHA - O sr. gosta de usar metáforas, citar escritores. Está para lançar seu sétimo livro de poesia. Como é mesclar vida de poeta e jurista?
BRITTO - Sou poeta antes mesmo de ser jurista. Quando assumi no Supremo decidi não deixar esse meu lado jurista passar por cima do poeta. A linguagem jurídica tradicional é muito fechada. Além de posuda. Quando permeada de literatura, ganha em clareza, beleza e, por conseguinte, fica atraente.
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
sexta-feira, 25 de abril de 2008
Entrevista coletiva de Gilmar Mendes
O novo Presidente do Supremo, Ministro Gilmar Mendes, concedeu entrevista coletiva à imprensa ontem, dia 24 de abril. Prometeu fazer uma gestão transparente do Tribunal com acesso franco aos órgãos de comunicação. Durante a entrevista, o Ministro não "correu" de nenhum tema mais espinhoso sem, no entanto, antecipar juízo sobre assuntos que ainda estão na pauta de julgamentos do Tribunal. Selecionei abaixo dois trechos da entrevista em que se discute a questão da judicialização da política. Confira.
Como o senhor pretende lidar com essa tensão criada nesses casos como da fidelidade partidária?
Gilmar Mendes: As situações são um pouco diversas, mas há algum tempo o país experimenta o debate da reforma política. Esse debate vinha sendo desenhado, mas por razões que nós conhecemos, acabou por não sair. Essa reforma política tinha como elemento central dar maior densidade programática e consistência aos partidos. O Tribunal já fora um pouco crítico do quadro de infidelidade partidária quando decidiu o tema em 1989. Os senhores devem se lembrar, quatro votos, dentre os quais o do ministro Celso de Mello, se pronunciaram no sentido de que a fidelidade partidária continuava a estar prevista no direito constitucional e deveria dar ensejo apenas à perda do mandato. Ao longo de todos esses anos passou a acontecer uma prática de cooptação. As eleições se realizavam de forma aberta em um sistema pluripartidário. Mas, encerrado o processo eleitoral, logo após a diplomação começava o fenômeno de cooptação. Qual a conseqüência disso para a democracia? É a distorção do próprio resultado eleitoral. Foi essa a avaliação que o Tribunal fez. Entendeu que o principio democrático estava sendo comprometido e fez uma rescisão de sua própria jurisprudência. E acabou por produzir também uma sentença de perfil aditivo ao dizer que enquanto o Congresso Nacional não regular o procedimento de perda de mandato, valerão as resoluções estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo fez uma ponderação e entendeu que o modelo democrático estava sendo comprometido com este processo que se tornara comum, quase que natural, de pessoas mudarem seqüencialmente de partido. Vimos que alguns parlamentares mudavam de três a cinco vezes na mesma legislatura. Isso levava a uma distorção na relação entre governo e oposição. Governadores de Estados que não tiveram um grande apoio nos municípios, no dia seguinte à eleição, conseguiam fazer uma cooptação. Isso produz uma distorção no sistema democrático. O Tribunal viu nisso um risco para o modelo democrático e entendeu que era preciso se pronunciar, especialmente diante de uma reforma política frustrada. Portanto, embora os casos não sejam perfeitamente análogos, aqui cabe uma analogia entre o caso do direito de greve e da fidelidade partidária.
Governo e oposição sempre disputam, no Congresso Nacional, e toda disputa sempre vem parar aqui. O senhor acha que já é hora de governo e oposição dialogarem e chegarem a um consenso, sem precisar de um poder moderador?
Gilmar Mendes: Essa é uma questão interessante, que a gente pode tratar no plano político e no plano filosófico-constitucional. Quando se concebeu a jurisdição constitucional, na década de 1920, se dizia que uma de suas funções era a de proteção da minoria. E assim tem sido nos modelos que se projetaram desde então. Dá-se à minoria a possibilidade de trazer a questão ao judiciário nas ações diretas [de inconstitucionalidade]. Se os senhores olharem o modelo alemão verão a seguinte situação: um terço dos membros do parlamento pode fazer uma ADI. Entre nós, basta um representante de um partido político — porque a legitimação é do partido político, com representante no Congresso Nacional. Muitos temas poderiam realmente ser tratados no âmbito do próprio Congresso Nacional. Matérias de caráter regimental, disciplinas específicas. Agora, eu não lamento que haja essa provocação do STF, mesmo pelos partidos políticos.
Por exemplo, a questão da CPI dos Bingos. Se ficasse nas mãos da maioria não teria havido a instalação da CPI. E não só me referi à CPI dos Bingos, também referi ao direito da oposição de poder requerer CPI. Nesse caso a judicialização foi correta, porque diante do impasse ou do massacre que a maioria teria sobre a minoria, o STF deu uma resposta. No modelo institucional desenhado há essa possibilidade. Um maior uso, ou menor, depende realmente dessa maior capacidade de consenso, ou dessa maior incapacidade de consenso. Creio que nos últimos tempos nós temos vivido mais, essa tendência de incapacidade para o consenso, mesmo quanto à norma de organização e procedimento. Porque não se trata de chegar a um consenso sobre as matérias de fundo, em geral, não se trata de um consenso quanto ao aspecto base, mas quanto a regras e procedimentos. Diante desses impasses, eu acredito que o Tribunal acaba sendo chamado para resolver de forma legítima. Se houver questão constitucional relevante, o Tribunal há de se pronunciar.
Leia a íntegra da entrevista do Ministro Gilmar Mendes, aqui.
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
quarta-feira, 23 de abril de 2008
Posse de Gilmar Mendes na Presidência do STF
.jpg) (...)
(...)
É por isso que posso afirmar, Senhor Presidente, que esta Suprema Corte — que não se curva a ninguém nem tolera a prepotência dos governantes nem admite os excessos e abusos que emanam de qualquer esfera dos Poderes da República — desempenha as suas funções institucionais e exerce a jurisdição que lhe é inerente de modo compatível com os estritos limites que lhe traçou a própria Constituição.
Práticas de ativismo judicial, Senhor Presidente, embora moderadamente desempenhadas por esta Corte em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por expressa determinação do próprio estatuto constitucional, ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade.
A omissão do Estado — que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.
O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela Constituição e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República.
Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.
De outro lado, Senhor Presidente, a crescente judicialização das relações políticas em nosso País resulta da expressiva ampliação das funções institucionais conferidas ao Judiciário pela vigente Constituição, que converteu os juízes e os Tribunais em árbitros dos conflitos que se registram na arena política, conferindo, à instituição judiciária, um protagonismo que deriva naturalmente do papel que se lhe cometeu em matéria de jurisdição constitucional, como o revelam as inúmeras ações diretas, ações declaratórias de constitucionalidade e argüições de descumprimento de preceitos fundamentais ajuizadas pelo Presidente da República, pelos Governadores de Estado e pelos partidos políticos, agora incorporados à “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”, o que atribui — considerada essa visão pluralística do processo de controle de constitucionalidade — ampla legitimidade democrática aos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive naqueles casos em que esta Suprema Corte, regularmente provocada por grupos parlamentares minoritários, a estes reconheceu — pelo fato de o direito das minorias compor o próprio estatuto do regime democrático — o direito de investigação mediante comissões parlamentares de inquérito, tanto quanto proclamou, em respeito à vontade soberana dos cidadãos, o dever de fidelidade partidária dos parlamentares eleitos, assim impedindo a deformação do modelo de representação popular.
(...)
Ministro Celso de Mello
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
domingo, 9 de março de 2008
Chega de trevas!
 Por que este debate sobre a Lei de Biossegurança está carregado de disputas ideológicas, religiosas e filosóficas, além dos aspectos apenas jurídicos?
Por que este debate sobre a Lei de Biossegurança está carregado de disputas ideológicas, religiosas e filosóficas, além dos aspectos apenas jurídicos?
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
quarta-feira, 5 de março de 2008
Quando começa a vida?
 ConJur — A pesquisa com células-tronco embrionárias é constitucional?
ConJur — A pesquisa com células-tronco embrionárias é constitucional?
Cláudio Fonteles — Não. A pesquisa tem de ser declarada inconstitucional para fazer valer duas normas da Constituição: o inciso III, do artigo 1º, que, como princípio fundamental, diz que os brasileiros devem construir uma sociedade em que a dignidade da pessoa humana seja ponto central; e o artigo 5º, que consagra o princípio da inviolabilidade da vida humana como direito individual. A vida humana começa na fecundação, no momento em que o espermatozóide se encontra com o óvulo. A partir daí, já há vida e esta não pode ser violada.
Luís Roberto Barroso —Sim. A pesquisa é disciplinada pela Lei de Biossegurança de forma totalmente compatível com os valores fundamentais da Constituição. A lei prevê que só podem ser utilizados nas pesquisas com células-troco embrionárias os embriões excedentes de procedimentos de fertilização in vitro e que sejam inviáveis ou que estejam congelados há mais de três anos. Além disso, a lei exibiu grande preocupação ética proibindo a clonagem humana, seja terapêutica, seja reprodutiva, e proibindo também o comércio de embriões. Portanto, é uma lei que disciplina adequadamente as pesquisas sem violar nenhum bem jurídico constitucional.
ConJur — Quais os direitos de um embrião? O embrião tem personalidade jurídica?
Cláudio Fonteles — O embrião tem direito constitucional à vida e expectativa de direitos civis. Para ter personalidade jurídica, tem de ter nascido, conforme estabelece o artigo 2º do Código Civil. No entanto, o embrião é um nascituro, cujos direitos são preservados por lei. É importante ressaltar que a minha posição impede apenas uma linha de pesquisa que significa matar pessoas. Não se pode matar uma pessoa para curar outra. Ficam abertos outros campos de pesquisa, como as com células retiradas do cordão umbilical e células-tronco de adultos.
Luís Roberto Barroso — Pelo Direito brasileiro, a personalidade jurídica começa a partir do nascimento com vida. O Código Civil protege, desde a concepção, o nascituro. Mas é importante fazer uma distinção: nascituro é o ser potencial, que se encontra em desenvolvimento no útero materno e cujo nascimento é tido como um fato certo. O embrião do qual falamos não é pessoa, porque não nasceu, e também não é nascituro porque não está implantado no útero materno e seu nascimento não é um fato certo. Pelo contrário. O embrião que está congelado há mais de três anos jamais será implantado no útero materno. Não existia no Brasil uma disciplina jurídica de como tratar os embriões até a Lei de Biossegurança. Ela protege o embrião porque não permite a clonagem e o comércio.
ConJur — A Lei de Biossegurança prevê a pesquisa apenas com células-tronco de embriões produzidos para a fertilização in vitro e não utilizados. No caso de o Supremo julgar a lei inconstitucional, qual será o destino dos embriões não implantados no útero materno?
Cláudio Fonteles — Há hoje, no Brasil, uma pessoa que nasceu de um embrião que ficou congelado por cinco anos. Nos Estados Unidos, há pessoas que nasceram de embriões congelados há 12 anos. Como matar essas pessoas/embriões? Os três anos de congelamento para poder usar nas pesquisas, como estabelece a lei, foram escolhidos de forma aleatória. Todos os embriões fecundados têm de ser usados. A fertilização in vitro deve continuar, mas deve ser limitada. Hoje, prevalece a linha mercantilista que fecunda 600 embriões de uma só vez. Não está certo. A medicina permite que sejam fecundados apenas dois para serem usados. Não se pode autorizar a morte por questões monetárias.
Luís Roberto Barroso — A declaração de inconstitucionalidade da lei não irá modificar em absolutamente nada o destino desses embriões. Eles continuarão congelados, continuarão fora do útero materno e continuarão a não representar uma vida em potencial. Só a resposta a esta pergunta já deveria levar à improcedência da ação.
ConJur — O senhor concorda com o argumento de que o STF determinará quando começa a vida?
Cláudio Fonteles — É isso que eu peço: que o Supremo determine quando começa a vida. Mas, o tribunal pode não responder a essa minha pergunta e encontrar outra solução para a problemática.
Luís Roberto Barroso — Não há nenhum sentido nessa afirmação. Nós não estamos falando em vida. Nós estamos falando de embriões congelados que não serão implantados no útero materno e, portanto, não se tornarão vida. Não há resposta para a pergunta “quando começa a vida?” porque ela não pode ser respondida pela ciência ou pela biologia. Essa é uma questão filosófica e de fé. E a fé habita o espaço da vida privada, não o espaço público onde se produzem as decisões dos tribunais. A pergunta correta a ser respondida pelo Supremo é: “O que fazer com os embriões que já existem e estão congelados há mais de três anos?”. É melhor deixá-los perenemente congelados até o momento do descarte ou é melhor destiná-los à pesquisa científica, permitindo que eles tenham o fim digno de contribuir para a ciência, para a diminuição do sofrimento de muitas pessoas e para salvar vidas? Está é que é a pergunta certa a ser respondida pelo Supremo Tribunal Federal.
ConJur — A decisão do Supremo pode afetar outras questões, como o uso da pílula do dia seguinte e a discussão sobre o aborto?
Cláudio Fonteles — Pode sim ter repercussões nestas outras questões, mas é preciso ter calma nas comparações. Se o Supremo decidir pela proibição das pesquisas com células-tronco embrionárias, isso não vai interferir nos casos em que o aborto é permitido. O Código Penal permite o aborto quando há risco de vida para a mãe e quando o feto é fruto de estupro. No primeiro caso, busca-se preservar a vida da mãe. É uma escolha entre a vida da mãe e do feto. No segundo, é o chamado aborto sentimental. Permite-se a retirada do feto pela dor intensa que ele gera na mãe. Quanto à pílula do dia seguinte, se ela significa matar embrião, aí sim será proibida com uma possível decisão do STF.
Luís Roberto Barroso — Não. A discussão sobre aborto, por exemplo, que é freqüentemente associada a esse debate, é totalmente impertinente. Na discussão sobre o aborto — que é importantíssima e deve ser travada no país — estão presentes outras reflexões jurídicas e éticas distintas destas das pesquisas das células-tronco. O que não faz uma questão mais importante do que a outra. Mas sim uma questão diferente da outra.
Revista Consultor Jurídico, 4 de março de 2008
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
segunda-feira, 28 de janeiro de 2008
"Em matéria eleitoral, vale é a idéia de limpeza ética."
 Leia a entrevista concedida para os jornalistas Carolina Brígido, Alan Gripp e Diana Fernandes, do jornal O Globo:
Leia a entrevista concedida para os jornalistas Carolina Brígido, Alan Gripp e Diana Fernandes, do jornal O Globo:
O Globo — O senhor considera a Justiça Eleitoral capacitada para coibir crimes cometidos pelos candidatos em campanha?
Carlos Britto — Sim. Mas o gênero humano é pródigo no arranjo de fórmulas espúrias. A criatividade no campo da ilicitude é infinita. A cada momento nos deparamos e nos surpreendemos com formas inéditas de burlar nossa fiscalização.
Carlos Britto — Interpretar a legislação cada vez mais à luz da Constituição. Uma das questões mais debatidas ano passado foi a fidelidade partidária. A Constituição, que quer e exige fidelidade, faz do partido protagonista do processo eleitoral. Não há candidatura autônoma. O partido investe no candidato, o seleciona em convenção, abona o nome dele e cede espaços de propaganda para ele. De repente o eleito dá as costas ao partido com o mandato embaixo do braço. Acabamos com essa farra.
Carlos Britto — Uma das formas é instituir o financiamento público de campanhas. Seria fundamental. Mas é possível fazer isso no plano jurisdicional. O TSE tem que entender que caixa dois significa abuso de poder econômico e causa perda de mandato. O tribunal está começando a ver dessa forma.
Carlos Britto — Não. A norma jurídica nem sempre se manifesta por explicitude. Também se manifesta por implicitude. Em 2006, o TRE do Rio negou registro a Eurico Miranda como candidato a deputado federal, dizendo que ele respondia a um número tão grande de processos que evidenciava vida pregressa incompatível com a pureza que se exige do candidato. Concordo. Fiz um voto longo. Acabei vencido, mas dois ministros me acompanharam. A decisão foi por 4 a 3 no TSE. Ele andou dizendo que eu devia ser flamenguista. Logo eu, que sou vascaíno antes dele!
Carlos Britto — Há um direito constitucionalmente assegurado, que é a presunção de não culpabilidade enquanto não haja sentença penal condenatória definitiva. Mas é em matéria penal. Em matéria eleitoral, vale é a idéia de limpeza ética. Quem não tem o passado limpo, quem não tem vida pregressa pautada na ética, não tem qualificação para representar o povo.
Carlos Britto — Tem que ter. Mas isso tem que ser analisado caso a caso.
Carlos Britto — Chamo isso, com todo o respeito, de interpretação leniente da Justiça, interpretação frouxa. Não está conforme o rigor da Constituição. A Justiça Eleitoral, quando recebe pedido de registro de candidatura, tem o dever de pedir informações sobre a vida pregressa da pessoa. Só pode ser político quem tem vocação para servir a coletividade, ou seja, espírito público.
Carlos Britto — O ideal seria uma nova lei. Mas a falta de lei não significa falta de direito.
Carlos Britto — O legislador é incapaz de prever todas as possibilidades de tramóias. O direito padece dessa fragilidade estrutural. Não tem resposta normativa escrita detalhada para a infinitude das vias de obtenção de um mandato escusamente. Aí o Judiciário entra. Chega um ponto em que tem que partir para interpretações implícitas. Quando você usa os dois lados do cérebro equilibradamente, o da razão e o da emoção, faz um casamento por amor e tem um rebento chamado consciência. Acusam o Judiciário de substituir o legislador. Não é isso. Podemos, com sensibilidade, adquirir novo par de olhos.
Carlos Britto — Em tese, seria proibido, mas teria que analisar caso a caso. É possível que, a pretexto de implantar uma política social, se esteja desequilibrando a disputa eleitoral. O caso vai dizer.
Carlos Britto — É uma falha de interpretação. Temos que evoluir na interpretação. O maior teórico do Direito, Hans Kelsen, dizia que o direito legislado é uma moldura aberta: cabe mais de uma interpretação, salvo raras exceções.
Carlos Britto — Nunca recebi um processo desses. A primeira vez que receber acho que vou chegar a uma conclusão diferente. Os físicos quânticos observam que a matéria é feita de partículas e ondas que se interagem. O observador atento passa a desencadear reações no objeto investigado. Uma norma jurídica é o meu objeto. Vou conversar com ele, ler com cuidado e entrar num clima de empatia. De repente ele passa a se me dar por um ângulo insuspeitado. Ao nível da interpretação, o Judiciário pode contribuir para o aperfeiçoamento do sistema jurídico. Eu entro num clima dialogal com o texto.
Carlos Britto — Muitas vezes, o defeito não é da legislação. E é cômodo para o juiz dizer: “Vou lavar minhas mãos”. Dizem: “Não posso fazer nada”. Pode sim! Releia a lei. Não tenha pressa!
Carlos Britto — Sou muito de virar a página. Como toda pessoa que faz meditação oriental, um exercício de presentificação, você aprende a viver no presente. Virei essa página do meu vínculo com o PT.
Carlos Britto — De jeito nenhum. Foi muito importante para a minha formação, a minha visão de Brasil, o meu compromisso social.
Revista Consultor Jurídico, 27 de janeiro de 2008
Postado por
Mauro Noleto
2
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos
quinta-feira, 18 de outubro de 2007
"Reengenharia institucional do Poder Judiciário"
 Valor: Há vários novos mecanismos em discussão ou adotados de forma inédita no Supremo que podem ter impacto em termos de celeridade processual e efetividade das decisões - impacto até maior do que a reforma do Judiciário. De onde surgiram estas novidades?
Valor: Há vários novos mecanismos em discussão ou adotados de forma inédita no Supremo que podem ter impacto em termos de celeridade processual e efetividade das decisões - impacto até maior do que a reforma do Judiciário. De onde surgiram estas novidades?
Gilmar Mendes: Nós temos uma reengenharia institucional do Poder Judiciário que vem se fazendo de forma complexa, também com um diálogo entre o legislador e o Judiciário. A lei da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) - a Lei nº 9.868, que trata também da ação declaratória de constitucionalidade (ADC) - produziu mecanismos bastante modernos no que concerne à prática de uma jurisdição constitucional. Ela introduziu o artigo 27, que permite a modulação dos efeitos de decisões judiciais e a possibilidade de haver audiências públicas para que o tribunal se informe sobre os fatos legislativos - e isto já ocorreu no caso do uso de células-tronco de embriões em pesquisas. E introduziu também a possibilidade, até então vedada, de participação de terceiros interessados - o chamado "amicus curiae" -, que vem dando uma coloração bastante plural ao processo constitucional.
Valor: Estes dois mecanismos vêm sendo bastante usados?
Mendes: Vêm sendo muito usados e com reflexos inclusive nos processos do chamado controle incidental de constitucionalidade (sobre um fato concreto), e não apenas no controle abstrato (por uma ação própria, como a Adin). No Supremo, ocorreu uma situação interessante. A primeira vez que a modulação de efeitos foi usada, não se tratava de um processo em Adin. Foi o caso da redução do número de vereadores nas câmaras municipais, em que o tribunal entendeu que deveria estabelecer uma orientação no sentido de reduzir o número de vereadores, mas que esta decisão impactaria as câmaras de forma bastante radical, porque retiraria dois, três vereadores de uma câmara, com conseqüências inclusive no processo legislativo e em discussões sobre se determinada lei que foi votada com o auxílio daqueles vereadores seria válida ou não. Então o tribunal optou por declarar a inconstitucionalidade no caso, mas aplicá-la somente para a próxima legislatura, em função destes impactos. O segundo caso em que a modulação foi aplicada foi o da progressão de regime de pena em crime hediondo, quando a situação era outra: o tribunal havia declarado a lei como constitucional. E agora, com uma nova composição, entendeu que a lei é inconstitucional. Se o tribunal nada dissesse provavelmente teríamos um número infindável de pleitos de caráter indenizatório: pessoas que diriam que cumpriram pena em regime integralmente fechado porque não fora contemplada a inconstitucionalidade da não-progressão de pena. Então optou por dizer que ele estava certo à época em que declarou a lei constitucional, e que estava certo agora, quando declarou a lei inconstitucional, e portanto não permitiu a retroação da decisão.
Valor: Esta é uma questão bastante discutida na área tributária: a análise dos efeitos das decisões pelo Supremo. Por que o tribunal começou, de repente, a pensar nestes efeitos, buscando uma saída prática?
Mendes: Nós trabalhávamos com uma idéia básica, que é uma ficção, de muitos modelos de jurisdição constitucional, de que a lei inconstitucional há de ser considerada nula. Na prática sabemos que as coisas não se passam bem assim e que é muito difícil fazer esta depuração total, que o próprio sistema cria mecanismos de proteção dos atos já realizados, da coisa julgada, da prescrição e da decadência, que surgem muito em matéria tributária. Portanto, a retroação nunca se deu de forma absoluta. O tribunal está, portanto, obrigado a fazer esta ponderação em vários casos. E em vários casos ela é fundamental, sob pena de não se viabilizar sequer a declaração de inconstitucionalidade. Se se tiver que provocar um caos jurídico ou uma hecatombe econômica, muito provavelmente o tribunal poderia fingir que a lei é constitucional, porque não quer assumir as conseqüências de uma decisão em sentido contrário. Se nós pensarmos isso em perspectiva histórica, sana-se o problema para o futuro, ainda que contemple-se os efeitos verificados no passado. Em questões tributárias, isto ocorre no mundo todo. A amplitude da jurisdição constitucional brasileira - talvez a mais ampla do mundo - com tantas possibilidades de provocação, torna quase inevitável a modulação de efeitos, sob pena de a toda hora nós podermos produzir impasses institucionais.
Valor: A modulação começou a ser usada recentemente. Ela está ligada à mudança de composição do Supremo ou a uma evolução do tribunal no sentido de passar a pensar no impacto de suas decisões?
Mendes: É preciso analisar o conjunto da obra. Já na Constituinte de 1988 discutiu-se a introdução de um dispositivo semelhante ao do artigo 27 da lei da Adin. Isto não ocorreu e o tribunal, depois disso, decidiu vários casos em que contemplou os efeitos das decisões, mas acabou mantendo o princípio da nulidade. Aí veio o artigo 27 da lei da Adin e, a partir daí, o tribunal passou a enfrentar os vários casos. De um lado, a própria iniciativa legislativa contribui para esta nova reflexão. De outro, a nova composição e o novo pensamento que passou a imperar no tribunal, e esta noção específica de responsabilidade institucional da corte quanto à eficácia de suas decisões. Declarar que é constitucional a demissão de funcionário público sem concurso é fácil, mas dizer que isto vai envolver a dispensa de centenas de servidores e desestruturar o serviço público é muito mais difícil. Esta nova técnica da modulação hoje está pacificada.
Valor: Foi pacificada no caso da fidelidade partidária?
Para que se profira a decisão de caráter cassatório, tem que se produzir uma lei até que venha a futura"
Mendes: A fidelidade partidária é uma outra técnica que também o tribunal vem desenvolvendo e que já se manifestou de alguma forma no julgamento iniciado da greve dos servidores públicos e no caso dos vereadores, que eu tenho chamado de sentenças de perfil aditivo - em que o tribunal rompe um pouco com a postura que tradicionalmente chamávamos de legislador negativo e passa a ser também, ainda que provisoriamente, um legislador positivo, permitindo uma regulação provisória de uma dada situação que reclama disciplina normativa ou regulação. No caso das câmaras, o tribunal, de alguma forma, já avançou para este aspecto ao concitar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a fixar o número de vereadores para a legislatura seguinte. E agora, no caso da fidelidade partidária, não se limitou a fixar a fidelidade, mas criou um procedimento para sua aferição no âmbito do TSE, indicando as bases deste procedimento. É uma típica sentença de perfil aditivo.
Valor: É legislar?
Mendes: Ou regular, o nome que você queira dar.
Valor: Mas não está na competência do Supremo legislar, sua competência é julgar. Por que o Judiciário está legislando?
Mendes: A gente não pode ver este tema por uma perspectiva isolada e nem fora do contexto do direito comparado. Esta é uma prática hoje vigente na jurisdição constitucional no mundo. Não se trata de uma invenção brasileira. É uma tendência. Em geral estas atuações se dão em contextos de eventual faltas, lacunas ou omissões do próprio legislador. Ou às vezes em um certo estado de necessidade. A declaração de inconstitucionalidade reclama uma regulação provisória. Para que se profira a decisão de caráter cassatório, tem que se produzir também uma lei para que se faça a transição entre o passado e o presente e regule o presente eventualmente, até que venha a legislação futura. Pode se perguntar se esta atitude pode ser banalizada. Eu diria que não, mas é um dado inevitável do novo contexto institucional que experimentamos.
Valor: Quando o sr. fala que é uma tendência no mundo, está se referindo a que países? Que experiências existem neste sentido?
Mendes: O das cortes constitucionais alemã, italiana e espanhola. Os italianos produziram ao longo do tempo essas chamadas sentenças atípicas, ou sentenças de perfil manipulativo ou aditivo - como é a situação que o tribunal está a desenhar no caso do julgamento sobre o direito de greve do servidor público, que é uma situação muito específica. O que se tem hoje é a possibilidade de regular isto mandando aplicar a lei de greve; uma omissão continuada do Poder Legislativo; e a existência de greve, dentro de um quadro de lei da selva! Este contexto tem levado o tribunal a fazer estas intervenções minimalistas.
Valor: Todas essas inovações no Supremo acompanham uma recente alteração na jurisprudência da corte. O sr. diria que o tribunal era mais conservador e hoje, com a nova composição, é mais liberal? Mudanças de jurisprudência diante de novas composições são comuns em outras cortes constitucionais?
Mendes: Tenho a impressão de que muitas questões já estavam em curso. Não podemos esquecer que um voto vencido é um germe eventual de uma mudança da jurisprudência. Também não podemos perder de vista que o modelo constitucional brasileiro passou por uma verdadeira revolução sobre a Constituição de 1988. Isto mudou o perfil do próprio processo constitucional como um todo e a corte foi percebendo este novo contexto. A nova composição do Supremo acaba por concluir este processo e a perceber a necessidade de introdução destas inovações. Hoje não conheço nenhuma corte de perfil constitucional no mundo que não pratique a modulação de efeitos. Nós éramos, até aqui, entre as jurisdições constitucionais importantes, talvez o único tribunal que não a conhecia.
Valor: Muitas destas inovações foram levadas pelo sr. ao Supremo. Há um trabalho de convencimento dos ministros para discuti-las?
Mendes: Não se trata de um trabalho pessoal ou individual. Há algum tempo estudo este tema, antes mesmo de ser juiz da corte, onde passei a sustentar estas posições. Mas houve também dificuldade no tribunal. A própria constitucionalidade da lei da Adin teve parte de sua regulação questionada - como o artigo 27, que o tribunal já vem aplicando, mas que tem uma argüição de inconstitucionalidade pendente, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Hoje se percebe que isto é um instrumento universal, que interessa a todos. Por ironia, a própria OAB pode vir a pedir a modulação no caso da Cofins dos prestadores de serviço, o que mostra que tudo depende de como as pessoas estão no filme. A modulação não é um instrumento de um dos lados da controvérsia, é um instrumento universal da jurisdição constitucional. Acredito que hoje a nova composição do Supremo é mais aberta a essas inovações menos formalistas.
Valor: Como no caso da adoção do efeito vinculante imediato, que o sr. sugeriu?
Mendes: Propus que nós encerrássemos esta fórmula vetusta, a meu ver, da suspensão de execução da lei inconstitucional pelo Senado. No controle incidental, o Supremo comunica a decisão ao Senado e o Senado suspende a parte considerada inconstitucional da lei - e aí sim, a decisão passa a valer para todos. Esta foi uma fórmula engenhosa adotada em 1934, mas que está totalmente ultrapassada no atual contexto constitucional, em que uma cautelar em Adin tem eficácia "erga omnes" (validade para todos) e uma decisão do pleno do Supremo, às vezes por unanimidade, depois de anos de tramitação do recurso extraordinário e do processo na Justiça, não tem. Sugeri que nós passássemos a adotar a idéia de que ao Senado só cabe publicar a decisão, mas que ela valeria a partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo.
Valor: O sr. assume a presidência do Supremo em maio do ano que vem. Já tem alguma proposta de mudar regras internas?
Mendes: Já há vários estudos em andamento e uma reforma regimental já está sendo discutida na gestão da ministra Ellen Gracie. Este é um processo que terá continuidade.
Entrevista concedida ao jornal Valor Econômico de 18.10.07
Postado por
Mauro Noleto
0
comentários
![]()
Seção: diálogos democráticos, imprensa